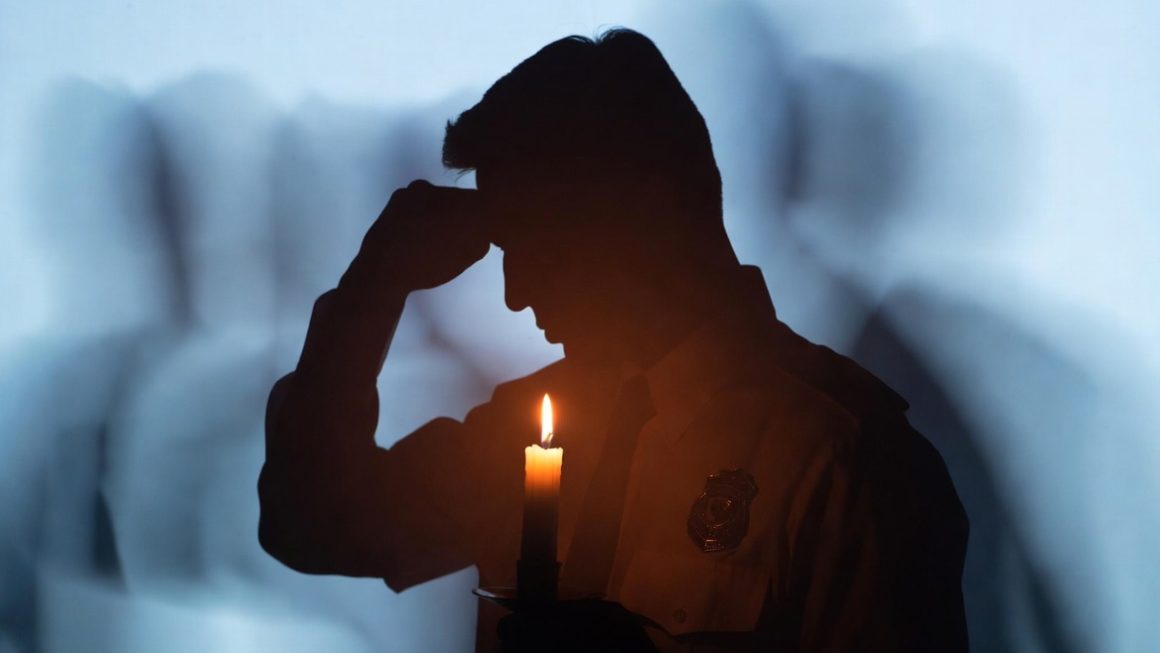A integridade remonta à ideia de “wholeness, perfect condition” e a palavra surgiu provavelmente em meados do século XV na língua inglesa (https://www.etymonline.com/search?q=integrity), podendo também significar “estar inteiro” ou “estar completo”. Em Business Ethics, integridade pode facilmente ser confundida com a ideia, de longa data, da conexão das virtudes, que pode se expressar da seguinte forma: “quem tem uma virtude moral, tem todas”, afirmação criticada por Solomon (1992). Neste caso, ser íntegro pode significar o uso simultâneo de todas as virtudes nas mais diversas situações, como nas organizações. Mas há dois problemas, que vamos explorar.
O primeiro é sabermos se é verdadeira a afirmação “quem tem uma virtude moral, tem todas” e, segundo, como abordar o problema da conexão das virtudes, ou seja, como é possível a conexão entre todas as virtudes, criando um plexo de virtudes orientadas de modo a formar um caráter coerente?
Para tratarmos a primeira questão, é necessário fazermos uma primeira distinção. Denominada de “doutrina forte” da conexão das virtudes morais entre si, teve adeptos ao longo da história da filosofia (Zingano, 2009). Entretanto, o próprio Aristóteles defendeu uma tese mais moderada, qual seja, “a da conexão das virtudes próprias que o agente possui por intermédio da prudência (phronesis), sem sustentar que quem tem uma virtude tem todas” (Zingano, 2009, p. 395). Para compreendê-la, precisamos distinguir o que Aristóteles, na Ethica Nicomachea, definiu como ‘virtude natural’ e ‘virtude própria’.
A primeira é a disposição adquirida ao repetirmos atos aos quais somos inclinados naturalmente como, por exemplo, ao sermos naturalmente inclinados à bravura, ao não recuarmos diante de um perigo qualquer, adquirimos ao longo do tempo – ou seja, ao longo de repetições de atos em um sentido – disposições correspondentes à coragem. Portanto, é um “modo de ser natural de nossas virtudes”, que inclui tanto as inclinações com as quais nascemos, mas também as adquiridas por assumir deveres e correções. Mais precisamente, não nascemos com tais disposições dadas por natureza, mas sim com a aptidão natural de recebê-las (Zingano, 2009, EN II 1 1103a23-26). Quando temos apenas virtudes naturais não há uma coordenação que as oriente, estão desconectadas e, portanto, é possível, por exemplo, que alguém seja corajoso, mas intemperante; que seja generoso, mas inconstante.
A virtude natural se torna uma virtude própria (ou virtude propriamente dita) “quando alguém não somente faz o que deve fazer [ter uma razão], mas o faz também em função de boas razões” (Zingano, 2009, p. 402). Essa “apreensão de razões” é justamente a phronesis, que como virtude intelectual da razão prática, opera a apreensão de razões no interior das virtudes morais, de modo a aperfeiçoa-las. Tem-se então que a phronesis é a “virtude intelectual que aperfeiçoa a virtude moral, fazendo-a passar de virtude natural para a virtude própria (Zingano, 2009, p. 404. Ver também EN VI 13 1144b15-17 e Ethica Eudemia III 7 1234a29-30).
Mas o que são “as boas razões”? Ou, em outras palavras, o que “convém fazer de acordo com a reta razão?” As boas razões do prudente são as condições consideradas para as decisões e ações que são boas em relação à vida inteira do agente, não apenas em um determinado instante, consideradas também em suas múltiplas atividades, bem como o ambiente político e social (Zingano, 2009).
Portanto, na ética aristotélica tem-se dois modos distintos de sermos moralmente virtuosos, e a phronesis assume o papel central para essa distinção. As virtudes morais próprias possuem em comum a phronesis como a virtude intelectual que opera no interior de tais virtudes, aperfeiçoando-as, tornando-as perfeitas. E isso é relevante para a questão das conexões das virtudes morais.
Como visto anteriormente, as virtudes naturais são desconectadas entre si, enquanto as virtudes próprias possuem a phronesis como elemento em comum, ou seja, é o elemento de conexão entre as virtudes. Porém, não necessariamente todas as virtudes estão presentes (“doutrina forte”), mas apenas o que o agente possui, intermediada pela phronesis, ou seja, para Aristóteles a phronesis supõe a posse prévia de uma ou mais virtudes morais – até mesmo de um bom número de virtudes –, mas não de todas elas, necessariamente. Pode-se chamar isso de “conexão moderada das virtudes” (Zingano, 2009).
Voltando-nos à crítica de Solomon (1992) do que ele denomina de “ilusão” da unidade (conexão) das virtudes, podemos adotar a distinção anterior para resolver o problema que ele descreve e que será útil para compreendermos a integridade. Em poucas palavras, ele afirma que “… salvo numa organização ou sociedade perfeitas, não há qualquer unidade garantida das virtudes, nem há como estabelecer uma distinção fácil entre virtude ou moral e os deveres do cargo ou da posição que se ocupa.” (Solomon, 2006, p. 272). Basta perceber os conflitos de deveres e os choques de lealdades proporcionados pela complexidade organizacional e pelos diversos papéis que o indivíduo precisa exercer nela, que […] não há como negar a desunião das virtudes (Solomon, 2006, p. 273).
Isso realmente é um grande problema ético. Tanto que o “choque de deveres” já foi tratado por Aristóteles em sua obra Magna Moralia (II 3), na qual se pergunta se as virtudes podem ter conflitos entre si. Zingano (2009, p. 408) faz a seguinte interpretação desta parte da obra: “no tocante às virtudes naturais, pode ocorrer um conflito de deveres; mas, assim que há uma escolha deliberada, isto é, uma apreensão de razões [phronesis], a virtude natural se torna perfeita, e não é mais possível haver um conflito de deveres, pois a razão que aperfeiçoa cada uma das virtudes é a mesma que está em todas.” Em outras palavras: o choque de deveres se dá somente quando há virtudes morais naturais (ou seja, ausência de phronesis), ao passo que não há tal choque entre as virtudes próprias do sujeito devido à unidade ou conexão entre elas através da phronesis.
Nesse caso, talvez Solomon esteja atribuindo o problema da unidade das virtudes mirando nas virtudes naturais. De fato, as virtudes naturais são desconexas e o choque de deveres ocorre frequentemente. Porém, quando tais virtudes são aperfeiçoadas pela phronesis, tornando-as virtudes próprias, há a unidade dessas virtudes e o choque deixa de existir.
A repercussão para a integridade é imensa e o próprio Solomon a responde. Quando ele considera que a integridade é “essencialmente coragem moral”, complementa afirmando que a integridade é “a vontade e a disposição de fazer o que se sabe que deve ser feito” (Solomon, 2006, p. 274), e é primordial que as regras e ordens nas organizações sejam compatíveis com as nossas virtudes. O autor – sem mencionar explicitamente – está falando da phronesis. O que “deve ser feito”, as virtudes morais naturais dão conta, porém o “saber o que deve ser feito” e de maneira contextual – ou seja, a compatibilidade do contexto organizacional com as nossas virtudes – refere-se à “apreensão de boas razões”, isto é, a phronesis. E é a phronesis a protagonista da unidade das virtudes e da percepção de inteireza, que tantas vezes se referem à integridade.
Referências:
Solomon, R. C. Ética e excelência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Zingano. M. Estudos de ética antiga [Studies of ancient ethics]. São Paulo: Paulus, 2009.
Colocar em hiperlink no site