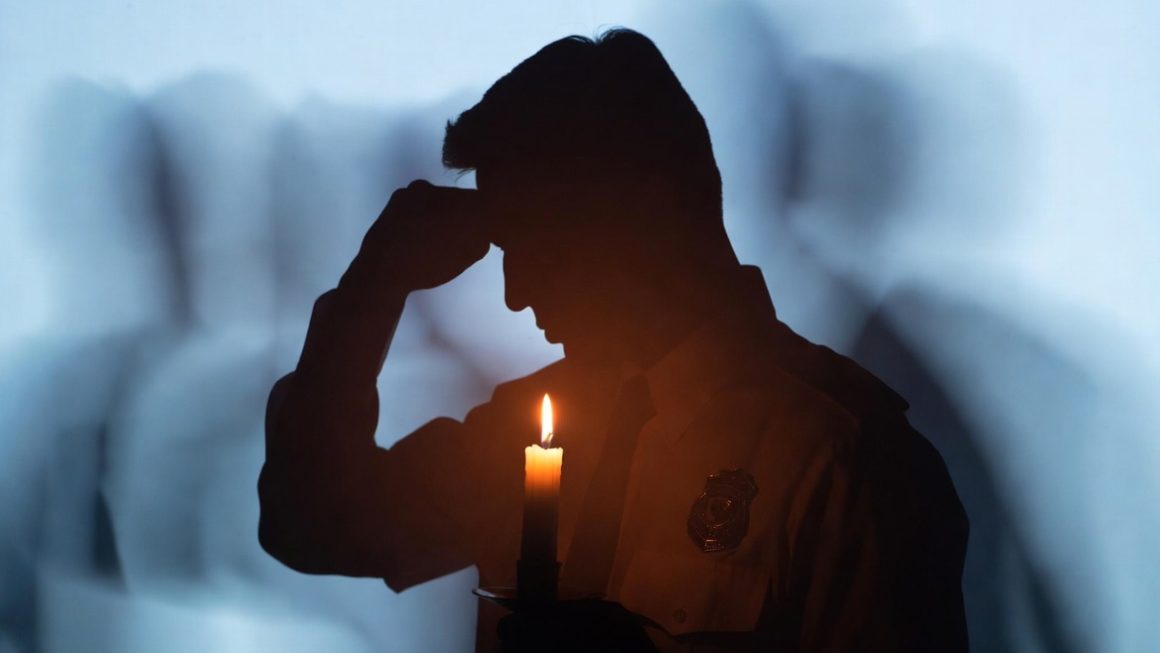O problema dos juros
Em artigo anterior ao blog, discutiu-se brevemente a relação entre a ética e a economia sob o prisma do conceito de desenvolvimento econômico, mostrando-se que o fator humano é essencial para a compreensão de diferentes teorias econômicas sobre o desenvolvimento e, portanto, envolve considerações éticas. Neste, pretende-se tratar de um assunto extremamente espinhoso na relação entre ética e economia, o problema dos juros.
Aristóteles condenava o pagamento de juros a partir de uma visão puramente naturalista, não ética: a moeda não dá frutos, não se reproduz, por isso não faz sentido emprestar 100 moedas de ouro e exigir 120 depois de algum tempo, pois o cento de moedas não pode se reproduzir. Ou seja, sua condenação da cobrança de juros não tinha relação com questões éticas.
O quadro mudaria com o cristianismo. Da mesma maneira que, no Antigo Testamento da Bíblia, há a proibição do empréstimo a juros entre os judeus, no Novo Testamento verifica-se que um cristão não poderia cobrar juros de outro; entretanto, judeus podiam cobrá-los de cristãos e vice-versa. O historiador francês Jacques Le Goff observa que modernamente se atribuiu aos judeus a instituição do empréstimo a juros na Europa Medieval, mas as ordens monásticas cristãs foram responsáveis por boa parte dessas operações até o século XIII. Le Goff afirma que a usura era condenada por diversas razões: levava ao pecado da cobiça, representava um preço colocado no tempo (e o tempo só pertence a Deus), por ser injusta e por representar um pecado contra a natureza (que é uma criação divina), seguindo a formulação escolástica. O usurário é, conforme a teologia medieval, alguém destinado a uma punição horrível no inferno, do qual ele só escaparia se, por um ato de caridade, restituíssem o dinheiro pecaminosamente ganho. A condenação da cobrança de juros ganha um verniz moral.
Entretanto, a partir do século XIV isso começa a mudar. Os escolásticos compreenderam a noção de risco, que é próprio a toda operação comercial, e passaram a justificar a diferença entre o valor emprestado e o que deve ser restituído com base no risco que o credor corre de não ser pago pelo devedor. Raymond De Roover observa que os escolásticos também admitiam que se poderia exigir uma multa caso um devedor não pagasse no prazo. Em segundo lugar, surge o conceito de lucro cessante, qual seja, a ideia de que, se eu tenho 100 moedas de ouro, poderia gastá-las com alimentos, roupas, confortos em geral, ou mesmo comprar sementes de trigo para plantar; se eu as emprestar, não posso nem consumir, nem investir. Conforme De Roover, Santo Antonino defendeu esse conceito com base em que o empréstimo feito pelo comerciante iria privá-lo da oportunidade de investir seu dinheiro, por isso seria aceitável.
A partir dessa percepção vê-se que quem empresta o dinheiro renuncia ao bem que ele pode trazer, e por isso merece uma recompensa. Aí o problema se torna definir o que seria a taxa de juros justa. O ato em si deixa de ser necessariamente imoral, para se tornar condenável em determinadas circunstâncias. Não se condena mais o juro em si, condena-se o juro excessivo – argumento que até hoje é apresentado.
São Bernardino de Siena, aponta Raymond De Roover, contribuiu para a discussão do juro e da usura ao estabelecer que os bens têm valores diferenciados ao longo do tempo; os escolásticos tinham definido que cobrar preços mais elevados na venda a crédito seria uma forma de usura, mas São Bernardino usa o diferencial de valor ao longo do tempo para defender que, na verdade, o preço a vista embutiria um desconto.
Posteriormente, Calvino iria contribuir para a análise moral do juro ao distinguir entre dois tipos de empréstimo, aquele que é feito pelo trabalhador que quer investir em seu negócio e melhorar sua vida, e aquele que é feito pelo mero objetivo de consumir e ter prazeres; o primeiro, diz o teólogo suíço, não deveria ser objeto de juro (ou o juro deveria ser compatível com a valorização do capital), mas o segundo é condenável por si só e o juro elevado serviria pelo menos para desestimulá-lo.
Percebe-se, dessa forma, que o juro antes tão condenado se tornava algo aceitável, e a crítica de fundo moral poderia ser contornada por diferentes hipóteses como as enunciadas pelos santos italianos, Bernardino e Antonino Pio. Esses autores, verdade seja dita, têm uma reflexão mais profunda em termos econômicos do que muitos dos autores que se dedicaram ao tema posteriormente: os mercantilistas nunca compreenderam a distinção entre fluxos e estoques, por exemplo, os fisiocratas desconheciam completamente a noção de valorização do capital, trabalhando apenas com a produção agropecuária como fonte da riqueza, e os clássicos pouco trataram do problema do dinheiro e suas operações. No final do século XIX, entretanto, os autores da Escola Austríaca desenvolveriam suas ideias sobre a moeda e os juros, inclusive embasando-se nos escolásticos e demais padres da Igreja A análise do juro feita pelos austríacos desconsidera a discussão moral, mas não se pode culpá-los por isso: afinal, os doutores da Igreja já a tinham abandonado. A questão que permanece é: qual é a taxa de juros que deveria vigorar na economia? As respostas variam, mas quase sempre se adota um viés técnico (o que está correto) ou político (que se passa como correto, mas raramente o está).