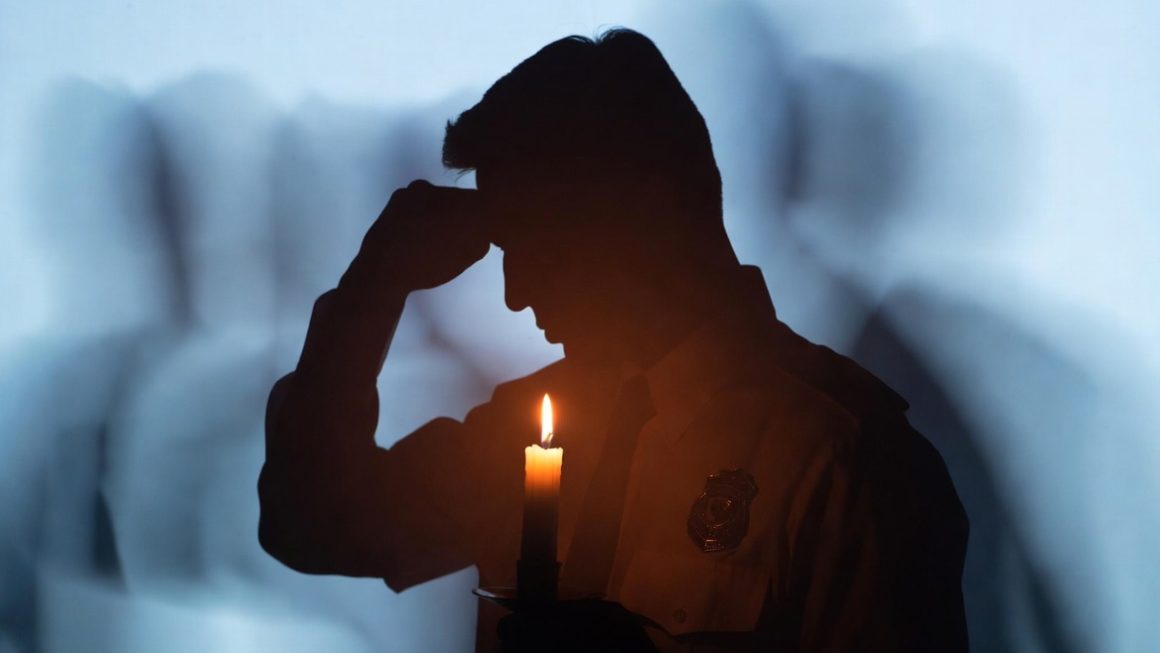Aristóteles, em seus dois livros sobre a ética e seu tratado sobre a política, trata menos sobre a honra do que sobre outras virtudes; Mesquita (2014) aponta que, embora o filósofo grego reconheça a importância social da honra e da vergonha, estes não são temas de sua predileção. O quadro das virtudes apresentado na Ética a Eudemo, Livro II, não a coloca; na Ética a Nicômaco, a honra é vista como algo que os seres humanos buscam em suas vidas, mas não corresponde à verdadeira felicidade, e tanto nela quanto na Política vê-se que o homem político deseja ser reconhecido, e esse reconhecimento envolve ser honrado pelos cidadãos da polis. Um sinal de que a honra não seria tão importante para Aristóteles quanto outras virtudes reside no fato de que ele define um ato honroso como aquele que não traz vergonha ao agente (MESQUITA, 2014) – a definição se dá por uma simples contraposição!
Como observa Ramos (2019), os filósofos latinos (sobretudo Cícero) deram algum destaque para a questão, que seria recolocada por São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em que as honras devidas aos seres humanos não devem ser confundidas com aquela que se deve a Deus, e as colocou em relação com a justiça. Entretanto, posteriormentea honra parece ter sido um tema para romancistas e escritores populares, mas não uma preocupação significativa para a filosofia.
No entanto, mais recentemente, a honra parece ter se tornado um tema relevante de estudo filosófico. Stewart (1994) aponta a publicação em 1965 de um livro editado pelo antropólogo J. G. Peristany, Honor and Shame: The Values of Mediterranean Society, como o início de uma “onda” de estudos sobre a honra, sobretudo na história e na antropologia. Hannah Arendt (1991) lembrou o conceito em seu livro A Condição Humana, em que critica a identificação entre as esferas social e política e lamenta que a honra e o reconhecimento dignos do homem político tenham perdido espaço para a riqueza (AGUIAR, 2004).Mais recentemente, em 2010, o filósofo Kwame Anthony Appiah publicou seu livro The Honor Code: How Moral Revolutions Happen, traduzido para o português em 2012. É para este livro que se dedica atenção neste breve ensaio.
Appiah, nascido na Inglaterra em 1954 e filho de pais ganeses, doutorou-se em Filosofia em Cambridge, e atualmente vive nos Estados Unidos, aonde lecionou em várias universidades famosas, como Cornell, Duke, Yale, Harvard e Princeton (APPIAH, 2020). Atualmente exerce o cargo de Professor of Philosophy and Law na New York University. Publicou diversos livros de filosofia, bem como algumas novelas, e seus estudos envolvem a questão da identidade, do cosmopolitismo e da ética. No livro que dedicou ao estudo da honra, Appiah (2012) deseja reivindicar um papel central para a honra na reflexão sobre o que seria a boa vida, pois ela cria conexões entre as vidas das pessoas, ajuda-nos a viver melhor nossas próprias vidas e a tratar as outras pessoas como devemos.
Com esse objetivo em mente, Appiah (2012) reivindica à honra um papel central nas revoluções morais, e estuda três casos do passado (o fim dos duelos, a abolição da escravidão na Grã-Bretanha e o fim do costume chinês de enfaixar os pés das mulheres) e um contemporâneo (os assassinatos de mulheres em nome da honra da família no Paquistão) para demonstrar que, embora os argumentos morais que condenavam essas práticas fossem já bem conhecidos, o que realmente produziu uma mudança (uma revolução moral, nas palavras de Appiah) foi o apelo à honra individual, coletiva ou nacional.
Eticamente falando, para Appiah (2012) a honra se relaciona com o respeito, tanto por si mesmo quanto pelas outras pessoas, e dessa forma se mostra como um bem humano fundamental, essencial para que se atinja a Eudaimonia buscada por Aristóteles. Para Appiah, ter honra significa ter direito a respeito; o direito a respeito, por sua vez, é conferido por um código de normas compartilhadas, “um código de honra [que] diz como pessoas de certas identidades podem ganhar direito a respeito, como podem perde-lo e, ainda, como o fato de ter e perder a honra muda a maneira como elas devem ser tratadas.” (APPIAH, 2012, p. 180).
Como se vê pela passagem acima, o respeito é essencial na teoria da honra, e para Appiah (2012) existem dois tipos de respeito: a estima, uma consideração positiva por uma pessoa que atende bem certos critérios, e o reconhecimento, que deriva de uma determinada função desempenhada pela pessoa; por exemplo, respeitamos um bom cantor porque estimamos seu talento ao cantar, e reconhecemos um policial porque desempenha este papel na sociedade. Esses dois tipos de respeito, entretanto, não dependem da moral – o bom cantor e o policial não são necessariamente respeitados por seus valores morais. Assim, o respeito não é associado diretamente à excelência moral.
Entretanto, o respeito que se conquista cumprindo exigências morais é um tipo de honra, e a moral em si demanda que reconheçamos que todas as pessoas têm um direito fundamental ao respeito – um direito de dignidade (APPIAH, 2012). A honra é tanto um atributo individual quanto coletivo, aplica-se tanto a uma pessoa quanto a um grupo, uma comunidade e mesmo e uma nação, e é com base nessa característica que Appiah defende que o fim dos duelos, a campanha pela abolição da escravidão, o fim da prática de enfaixar os pés das mulheres chinesas, são revoluções morais causadas pelo apelo à honra dos cavalheiros, dos trabalhadores britânicos e do povo chinês. Modernamente, o apelo à honra nacional do povo tem sido invocado para abolir os crimes de honra que vitimam as mulheres paquistanesas.
A honra, para Appiah (2012), pode ser uma forma de transforma sentimentos morais privados em normas públicas, e com isso unir as pessoas em busca de sistemas morais que produzam um mundo melhor: podem não apenas ajudar na busca pelo bem de todos, mas também pelo bem individual. Ela produz um sentimento de respeito pelas outras pessoas, o que ajuda a construir uma sociedade moralmente mais saudável. Seu argumento, então, consiste em transformar a honra numa virtude essencial para a promoção da felicidade.
Honrar os demais, tornar-se digno de honra, respeitar e ser respeitado evitar os sentimentos de vergonha nos planos individual e coletivo, são todos atos que podem nos ajudar a viver melhor. Talvez não produzam revoluções morais, como Appiah (2012) defendeu, mas, pelo menos, não tornarão o mundo pior. E, para fechar o círculo, pode-se lembrar Aristóteles: a verdadeira grandeza não consiste em receber honras e sim em merecê-las.
Referências:
AGUIAR, Odilio Alves. A questão social em Hannah Arendt. Trans/Form/Ação, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 7 – 20, 2004.
APPIAH, Kwame Anthony. O código de honra: como ocorrem as revoluções morais. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
______. Curriculum vitae. Kwame Anthony Appiah. Disponível em:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4. Ed. São Paulo: Edipro, 2014.
______. Ética a Eudemo. São Paulo: Edipro, 2015.
______. Política. São Paulo: Edipro, 2019.
ARENDT, Hannah. A condição humana. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1991.
MESQUITA, António Pedro. Honra e vergonha em Aristóteles. Ensaios Filosóficos, v. X, p. 1 – 18, dez. 2014.
RAMOS, Felipe de Azevedo. A virtude da dulia (honra) em Tomás de Aquino. Trans/Form/Ação, Marília, v. 42, edição especial, p. 265 – 290, 2019.
STEWART, Frank Henderson. Honor. Chicago: Chicago University Press, 1994.