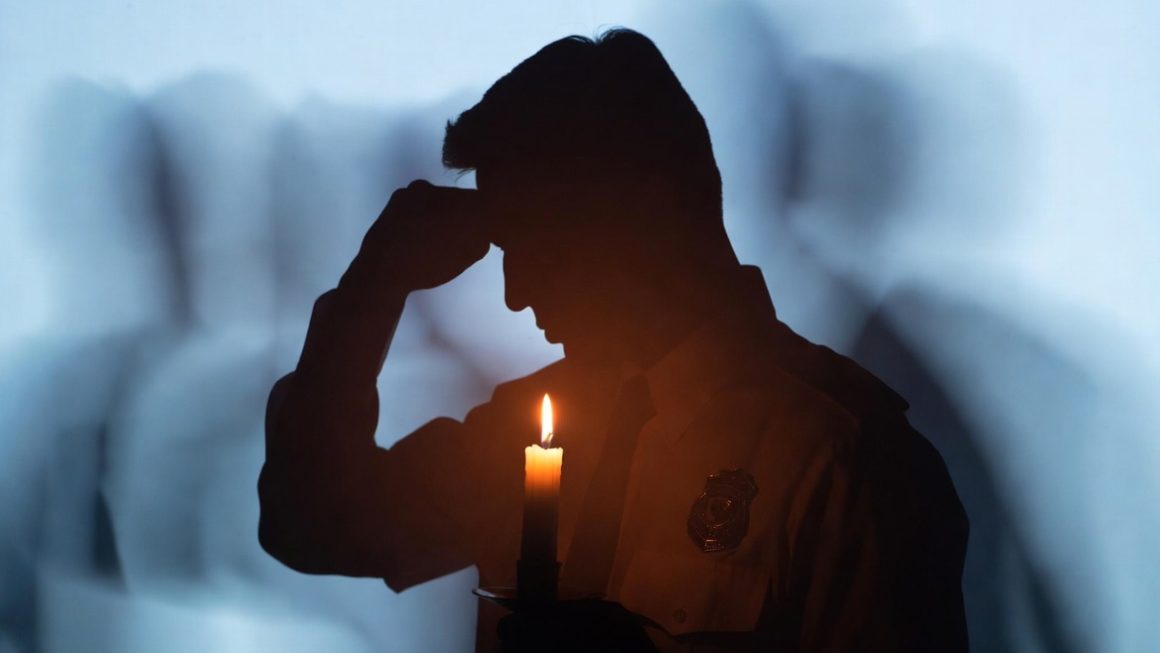Texto escrito com colaboração de Renata Biana da Silva
A ética é um dos campos mais antigos da filosofia, envolvendo questões sobre o que é moralmente certo ou errado, como devemos viver e o que constitui uma vida boa. Ao longo da história, diferentes sistemas éticos surgiram para tentar responder a essas questões, sendo Aristóteles e Immanuel Kant dois grandes representantes dessa tradição filosófica. A princípio, suas éticas parecem divergentes: a ética de Aristóteles, teleológica, está focada na busca da eudaimonia (felicidade) através do desenvolvimento das virtudes; enquanto a ética de Kant, deontológica, baseia-se no cumprimento do dever moral.
Contudo, este ensaio propõe que, apesar das diferenças óbvias, a ética kantiana pode ser compreendida como uma reformulação ou retomada de princípios aristotélicos fundamentais. Através de uma análise comparativa de temas como o papel da razão, o conceito de fim último, a relação entre virtude e dever, e a conexão entre felicidade e moralidade, é possível concluir que a ética de Kant, em seu cerne, preserva e desenvolve aspectos centrais da ética de Aristóteles.
I. A Ética Aristotélica: Virtude e Eudaimonia
Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, propõe que todas as ações humanas visam a algum bem. Ele começa com a famosa afirmação de que “todo ofício e toda investigação, bem como toda ação e escolha, parecem tender a algum bem” (Aristóteles, 1998). O bem supremo, aquele que todos buscam por si mesmo, é a eudaimonia, frequentemente traduzida como “felicidade” ou “florescimento humano”. A eudaimonia, para Aristóteles, é o fim último da vida humana, e a maneira de alcançá-la é por meio da prática das virtudes.
As virtudes, para Aristóteles, são disposições de caráter que nos permitem agir de acordo com a razão. Ele descreve as virtudes como um “meio-termo” entre dois extremos: o da deficiência e o do excesso. Por exemplo, a coragem é a virtude que se encontra entre a covardia (deficiência) e a temeridade (excesso). Essa ideia de virtude como um equilíbrio ou moderação é central para a ética aristotélica.
Outro aspecto importante da ética aristotélica é o papel da razão. Aristóteles argumenta que o ser humano é, por natureza, um ser racional, e que a vida boa para o homem é aquela vivida de acordo com a razão. Ele afirma que “a função própria do homem consiste em uma atividade da alma que esteja de acordo com a razão” (Aristóteles, 1998). Portanto, a virtude é a excelência da razão, e a vida virtuosa é aquela em que a razão governa as ações e paixões do indivíduo.
Dessa forma, Aristóteles vê a moralidade como parte integrante do que significa ser humano e viver bem. A felicidade (eudaimonia) é alcançada através da prática contínua das virtudes, e essas virtudes, por sua vez, são determinadas pela razão.
II. A Ética Kantiana: Dever e Imperativo Categórico
Immanuel Kant, a seu turno, desenvolve uma ética que é frequentemente descrita como deontológica – baseada no cumprimento do dever moral. Para Kant, o valor moral de uma ação não reside em seus resultados, mas na intenção por trás dela. Ele afirma que a única coisa que é incondicionalmente boa é a “boa vontade”, definida como a disposição de agir de acordo com o dever moral. A famosa frase de Kant em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes expressa isso claramente: “Nada há, em parte alguma do mundo, nem fora dele, que possa ser considerado como bom sem limitação, exceto uma boa vontade” (Kant, 2003, p.16).
O princípio fundamental da ética kantiana é o imperativo categórico, que ele formula de várias maneiras. A formulação mais conhecida é: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal” (Kant, 2003, p. 30). O imperativo categórico pode ser entendido como uma lei moral universal que se aplica a todos os seres racionais, independentemente de suas inclinações ou desejos pessoais. Para Kant, agir moralmente é agir de acordo com o dever, e o dever é determinado pela razão.
Assim como Aristóteles, Kant confere um papel central à razão em sua teoria ética. Para Kant, a razão transcende um mero meio para alcançar a felicidade, tornando-se a fonte das obrigações morais. A ação moral, para Kant, deve ser guiada pela razão pura, que nos revela o que devemos fazer, independentemente das consequências. Kant rejeita qualquer forma de ética consequencialista, insistindo que o dever moral é absoluto e incondicional.
III. O Papel da Razão: Convergências e Diferenças
Ao comparar os dois sistemas éticos, um ponto de conexão importante é o papel da razão. Tanto para Aristóteles quanto para Kant, a razão é a faculdade central que orienta a ação moral. Em Aristóteles, a razão prática nos ajuda a discernir o “justo meio” em cada situação e a agir de acordo com as virtudes. Para Kant, a razão prática nos permite formular e seguir o imperativo categórico, garantindo que nossas ações sejam moralmente corretas.
Embora as concepções de razão pareçam diferentes – em Aristóteles, mais orientada para a particularidade e o contexto, enquanto em Kant, orientada para a universalidade e a formalidade – ambos os filósofos concordam que a moralidade está profundamente conectada à capacidade racional humana. A ação moral, para ambos, é aquela que está em conformidade com a razão. Enquanto, para Aristóteles, a razão nos guia em direção à eudaimonia – por meio da prática das virtudes; para Kant, a razão nos guia em direção ao cumprimento do dever moral através do imperativo categórico.
IV. Virtude e Dever: Uma Relação Dialética
Outro ponto de conexão é a relação entre virtude e dever. Para Aristóteles, a virtude é uma disposição de caráter que nos leva a agir de acordo com a razão e, assim, a alcançar a felicidade. A prática das virtudes é um fim em si mesmo, uma vez que leva à eudaimonia. Já para Kant, a virtude é a força moral de uma pessoa para cumprir seu dever. Ele descreve a virtude como uma “determinação moral” que nos permite seguir a lei moral apesar das tentações e dificuldades.
Sendo assim, podemos argumentar que a boa vontade kantiana desempenha uma função semelhante à da virtude aristotélica. Ambos os conceitos se referem à disposição de agir de acordo com a razão e de buscar o bem moral. Para Aristóteles, a virtude é o meio pelo qual alcançamos a felicidade, e para Kant, a boa vontade é o que torna uma ação moralmente boa.
Além disso, ambos os filósofos concordam que a ação moral não deve ser motivada por interesses egoístas ou por desejos sensíveis. Aristóteles, em sua teoria da virtude, argumenta que a ação virtuosa é aquela que é realizada pelo seu próprio valor, e não por causa de recompensas externas. Kant, por sua vez, argumenta que a moralidade exige que as ações sejam realizadas por dever, e não por inclinações pessoais.
V. O Fim Último: Eudaimonia e o Sumo Bem
Tanto Aristóteles quanto Kant reconhecem a existência de um fim último ou bem supremo. Para Aristóteles, o fim último é a eudaimonia, que ele define como o exercício da razão em conformidade com a virtude. A eudaimonia, enquanto estado de viver bem, é alcançada através da prática das virtudes ao longo da vida. Esse conceito, reitera-se, é central para a ética aristotélica, pois toda ação moral é orientada para a realização desse bem supremo.
Kant também postula a existência de um bem supremo desenvolvendo o conceito de uma forma mais complexa. Para ele, o bem supremo é a combinação de virtude e de felicidade. Em sua Crítica da Razão Prática, Kant argumenta que o bem supremo só pode ser realizado se a virtude for recompensada com a felicidade. Mesmo dando primazia à virtude sobre a felicidade ao afirmar que a moralidade exige que busquemos a virtude, e a felicidade deve ser vista como uma consequência justa, mas não garantida, da virtude; Kant retoma a ideia de exercício da razão em conformidade com a virtude, no alcance da felicidade, de Aristóteles.
Em sua obra, Kant reconhece que não há garantia de que a virtude conduza à felicidade no mundo empírico. Por isso, ele postula a necessidade da imortalidade da alma e a existência de Deus para garantir que a virtude seja recompensada com a felicidade. Nesse sentido, o bem supremo kantiano pode ser visto como uma evolução do conceito aristotélico de eudaimonia, inserido em uma estrutura metafísica distinta, em que a realização completa da felicidade não é garantida nesta vida, mas em um contexto transcendental.
Ambos os filósofos concordam que a razão e a virtude são fundamentais para a vida moral, e que a moralidade está diretamente conectada à ideia de um fim último.
VI. Felicidade e Moralidade: Uma Conexão Complexa
A relação entre felicidade e moralidade é um dos temas mais fascinantes na comparação entre Aristóteles e Kant. Para Aristóteles, a felicidade (eudaimonia) é o fim supremo da vida humana e só pode ser atingida por meio da virtude. A prática da virtude não é apenas um meio para alcançar a felicidade; a própria vida virtuosa é a vida feliz. A felicidade, portanto, é intrinsecamente ligada à moralidade, e a vida moralmente virtuosa é a vida verdadeiramente feliz.
Kant, por sua vez, reinterpreta essa relação de maneira significativa. Em sua teoria, a felicidade não pode ser o fundamento da moralidade. Para ele, agir moralmente é cumprir o dever por respeito à lei moral, e não com o objetivo de alcançar a felicidade. Kant acredita que a busca pela felicidade, como um desejo empírico, está sujeita à contingência e não pode servir como uma base sólida para a moralidade. Ele afirma: “A moralidade não é a doutrina de como devemos nos fazer felizes, mas de como devemos nos tornar dignos da felicidade” (Kant, 2003, p. 98).
No entanto, Kant reconhece que existe uma conexão entre virtude e felicidade, embora seja uma conexão indireta. Ele argumenta que, se seguirmos o dever moral, devemos esperar que a virtude seja recompensada com felicidade, mesmo que essa recompensa não seja garantida nesta vida. A ideia de que a virtude merece felicidade está presente na noção do “bem supremo” em Kant, em que a felicidade deve ser proporcionada à virtude, mas essa proporcionalidade só pode ser garantida pela intervenção divina. Assim, enquanto a felicidade não pode ser o objetivo direto da moralidade, ela ainda desempenha um papel importante na estrutura kantiana.
Podemos ver uma continuidade entre as éticas de Aristóteles e Kant nessa questão, pois ambos concordam que a virtude é essencial para a vida moral e que há uma relação entre virtude e felicidade. No entanto, Kant modifica essa relação, argumentando que a felicidade não é um objetivo a ser buscado diretamente, mas uma recompensa justa para a virtude. Aristóteles vê a felicidade como inseparável da virtude e da vida moral. Para ele, ser virtuoso é, por definição, ser feliz. Para Kant, em suma, ser virtuoso torna o indivíduo digno de felicidade, mesmo que para a realização da felicidade seja necessário transcender a mera experiência empírica.
VII. Kant como uma Retomada da Ética Aristotélica
Com base nas discussões anteriores, podemos concluir que a ética kantiana pode ser vista como uma retomada dialética da ética aristotélica. Embora Kant rejeite a ideia de que a felicidade pode ser o fundamento da moralidade, ele preserva muitos dos elementos centrais da ética de Aristóteles, como o papel da razão, a importância da virtude e a conexão entre moralidade e um fim último. Kant reformula esses conceitos para adaptá-los a seu próprio projeto filosófico, focando no dever moral e na razão pura como os guias centrais da ação moral.
Ao reorientar a ética em torno do conceito de dever e do imperativo categórico, Kant oferece uma solução para o problema da contingência e da subjetividade das noções de felicidade. No entanto, ele ainda mantém uma visão teleológica implícita, ao propor o bem supremo como o objetivo último da moralidade, no qual a virtude e a felicidade são reconciliadas.
Portanto, apesar de sutis diferenças, podemos ver Kant como alguém que revisita e expande a ética de Aristóteles, ajustando-a para as exigências filosóficas de seu tempo. Kant incorpora a ênfase aristotélica na razão e na virtude, mas dá a esses conceitos uma nova orientação, colocando o dever moral e a lei universal como os elementos centrais de sua ética. Dessa forma, defende-se que a ética kantiana não deve ser vista como uma rejeição à ética aristotélica, mas como uma continuidade dialética, na qual os mesmos princípios são reinterpretados à luz das novas questões filosóficas.
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Antonio de Castro Caeiro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2003.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução de Valério Rohden e Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Martin Claret, 2002.