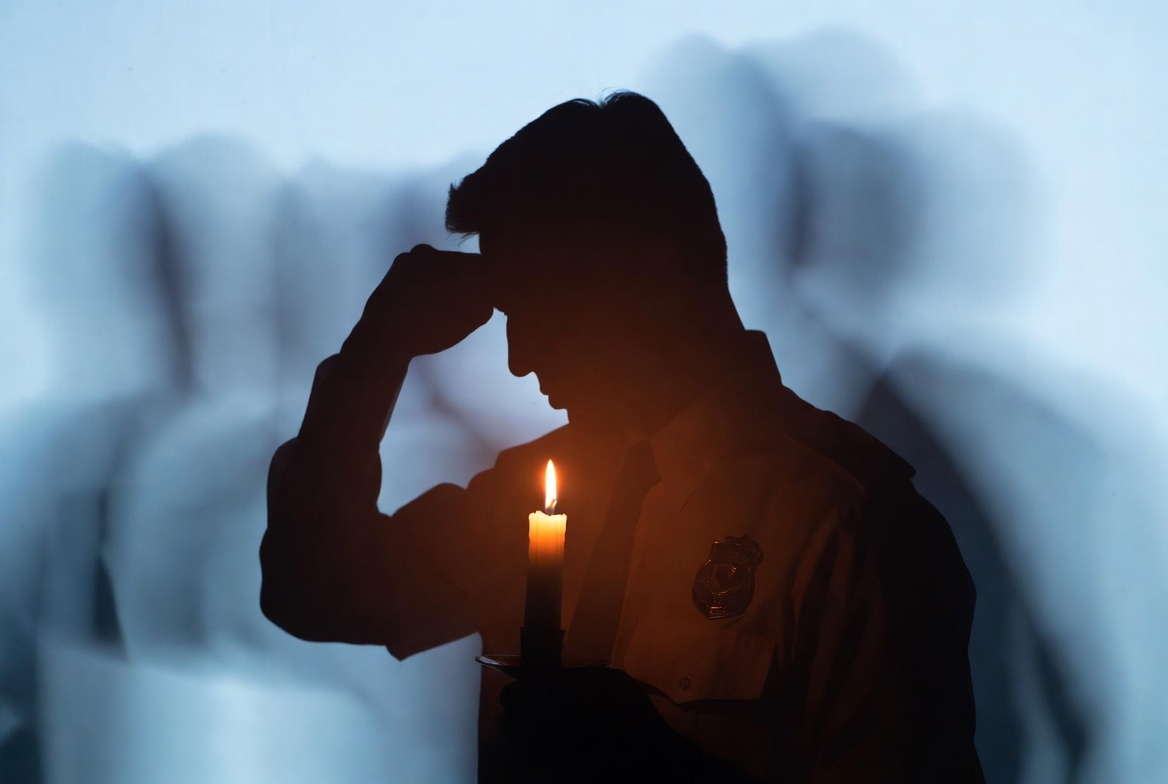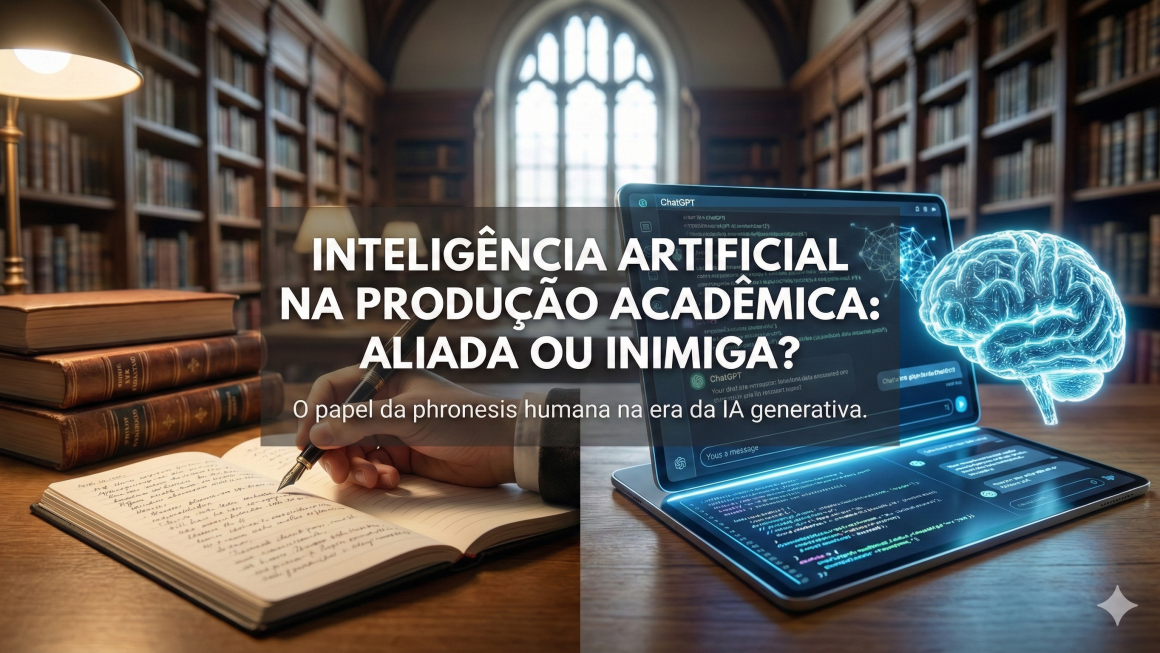Mauricio C. Serafim
Quando pensamos em gestão pública, a imagem que frequentemente surge é a de um universo governado por leis, processos e uma burocracia complexa. Acredita-se que a excelência reside na aplicação rigorosa das normas. No entanto, a verdadeira eficácia na gestão pública pode não estar no cumprimento irrefletido de um manual, mas em uma dimensão mais humana: o caráter do gestor. Este texto explora algumas ideias, extraídas de estudos sobre ética e virtudes, que podem mudar nossa visão sobre o que realmente significa ser um bom servidor público.
As abordagens éticas tradicionais na gestão pública geralmente se concentram em dois caminhos: seguir regras e deveres (deontologia) ou alcançar o melhor resultado para a maioria (utilitarismo). Contudo, uma alternativa, a abordagem das virtudes, muda o foco do ato para o agente. Essa perspectiva desloca a questão fundamental que orienta a conduta do gestor.
A pergunta muda de “o que eu devo fazer?” para “quem eu devo ser?”
Essa mudança é fundamental porque, em vez de apenas consultar um manual de regras, o gestor é chamado a cultivar ativamente um caráter — uma disposição estável ou hábito (hexis) — que o capacite a agir corretamente com constância. Essa formação moral é especialmente crucial em situações complexas e de alta pressão, onde as regras são ambíguas ou insuficientes, e a decisão correta depende da percepção e da integridade de quem decide.
Essa base de caráter é precisamente o que nos permite enfrentar o primeiro grande obstáculo do serviço público: a própria burocracia.
A burocracia foi analisada por Max Weber como o modelo mais eficiente e imparcial de organização. Antes de mergulhar na solução para seus dilemas, é crucial entender a raiz do problema. A burocracia é uma instituição concebida para ser impessoal e eficiente. Contudo, como alertou o sociólogo Robert Merton, ela sofre de uma disfunção crônica: o deslocamento de objetivos, segundo o qual as regras, criadas como meios, tornam-se um fim em si mesmas.
É neste contexto burocrático que o sociólogo Guerreiro Ramos identificou a síndrome comportamental. Ele faz uma distinção crucial entre comportamento — uma reação mecânica e programada a estímulos como regras e ordens — e ação, que é uma conduta deliberada, baseada na reflexão sobre finalidades éticas.
O grande perigo da burocracia é quando o gestor deixa de agir conscientemente em prol do bem comum e passa apenas a comportar-se, ao seguir procedimentos sem questionamento e sentido.
A solução proposta por Ramos considera o Homem Parentético: o agente que desenvolve a capacidade de “colocar entre parênteses” as circunstâncias internas e externas (ambiente) para avaliá-las criticamente. Com base na racionalidade substantiva, ele julga se a aplicação de uma norma, em um caso concreto, realmente serve à justiça e ao interesse público, resgatando, assim, sua capacidade moral.
Mas para colocar as circunstâncias entre parênteses e agir, o gestor precisa de uma virtude específica: a coragem de resistir.
A fortaleza desafia a noção comum de coragem como uma virtude puramente proativa e revela uma dimensão mais sutil e, talvez, mais importante para o gestor público. A fortaleza possui dois atos distintos: acometer (empreender), a dimensão proativa de atacar os males, e, mais importante, sustentar (resistir). Esse último, considerado o ato principal e mais difícil, consiste em suportar a adversidade, as pressões indevidas e o cansaço sem desanimar ou ceder em seus princípios.
Imagine um caso hipotético de um gestor de contratos que fiscaliza a merenda escolar. A empresa fornecedora entrega produtos de qualidade inferior e possui grande influência política. O prefeito é aliado dos donos da empresa e pressiona o gestor para “não criar problemas”. Colegas o aconselham a “deixar passar” para não arriscar o cargo. A verdadeira coragem neste caso não está em um ataque público, mas em sustentar a integridade ao documentar as falhas e seguir o processo legal, mesmo sob risco pessoal e profissional.
Essa visão de coragem como resiliência é fundamental, mas incompleta. A fortaleza apenas é virtude quando está a serviço da justiça e é guiada pela prudência. Sem justiça, a coragem se torna mera violência, sem sabedoria prática, ela é imprudência cega. Isso nos leva diretamente à virtude que deve guiar toda ação corajosa.
A palavra prudência foi reduzida no senso comum à mera cautela. No contexto das virtudes, seu significado original, phronêsis (sabedoria prática), é muito mais profundo e essencial. É a reta razão no agir, a virtude-mestra (auriga virtutum) que guia a aplicação das outras virtudes na medida certa e no momento certo.
Essa sabedoria não é um dom místico, mas uma competência que se apoia em partes essenciais: a memória para aprender com os erros do passado, a docilidade para ouvir conselhos e a providência para antever as consequências futuras de uma decisão.
É a “arte de decidir corretamente. […] Apenas quem domina esta arte pode ser considerado um homem moralmente maduro e adulto” (Josef Pieper).
Tal sabedoria se manifesta em três atos práticos: deliberar (analisar a realidade), julgar (ponderar os meios corretos) e decidir (executar, agir com firmeza). É a phronêsis que permite ao gestor navegar a “zona cinzenta” entre a rigidez da regra e a complexidade da realidade. Em termos weberianos, é ela que harmoniza a ação racional com relação a fins (a busca por eficiência) com a ação racional com relação a valores (o compromisso com a ética), de modo a garantir que a decisão final sirva verdadeiramente ao bem comum.
E hoje, essa virtude enfrenta seu maior teste na era digital.
A discussão clássica sobre virtudes encontra seu desafio mais contemporâneo na implementação da Inteligência Artificial (IA) no setor público. O dilema central emerge do conflito entre a “lógica da IA”, tipicamente utilitarista e focada em eficiência, e a “lógica do serviço público”, deontológica e baseada em princípios como justiça e equidade. Riscos como o viés algorítmico e a opacidade da “caixa-preta” são ameaças diretas aos valores públicos.
No Brasil, essa não é uma discussão teórica. O Tribunal de Contas da União já utiliza a IA ‘Alice’ para fiscalizar contratações, e o Judiciário usa sistemas como o ‘Victor’ no STF para triagem de processos. A Phronêsis Digital se manifesta quando o gestor pergunta: como garantir que Alice não desenvolva um viés contra empresas de certas regiões? Qual a responsabilidade de um magistrado que confia excessivamente na triagem do Victor?
A resposta virtuosa é o desenvolvimento da Phronêsis Digital. Trata-se da aplicação da sabedoria prática ao contexto tecnológico, que capacita o gestor a deliberar sobre como, quando e se um sistema de IA deve ser utilizado para servir ao interesse público. A manifestação mais clara dessa virtude pode ser a “coragem moral para interromper, reverter ou desmantelar um sistema de IA que se revela prejudicial”, mesmo que ele seja eficiente ou politicamente favorecido.
Conclusão: O caráter como a capacidade de gestão mais necessária
Para além da competência técnica e do domínio da legislação, o que verdadeiramente define a excelência no serviço público é o caráter do gestor. As virtudes da justiça, fortaleza e sabedoria prática não são conceitos abstratos, mas realidades essenciais que capacitam o agente público a tomar decisões corretas, resistir a pressões indevidas e navegar a complexidade do mundo moderno. Elas garantem que o poder do Estado seja exercido não apenas com eficiência, mas com integridade e humanidade.
O objetivo final não é a eficiência máxima, mas usar a tecnologia para ampliar o florescimento humano (eudaimonia) e fortalecer a confiança pública.
Em um mundo cada vez mais focado em otimizar sistemas e algoritmos, estamos dedicando a mesma energia para cultivar o caráter daqueles que servem ao público?