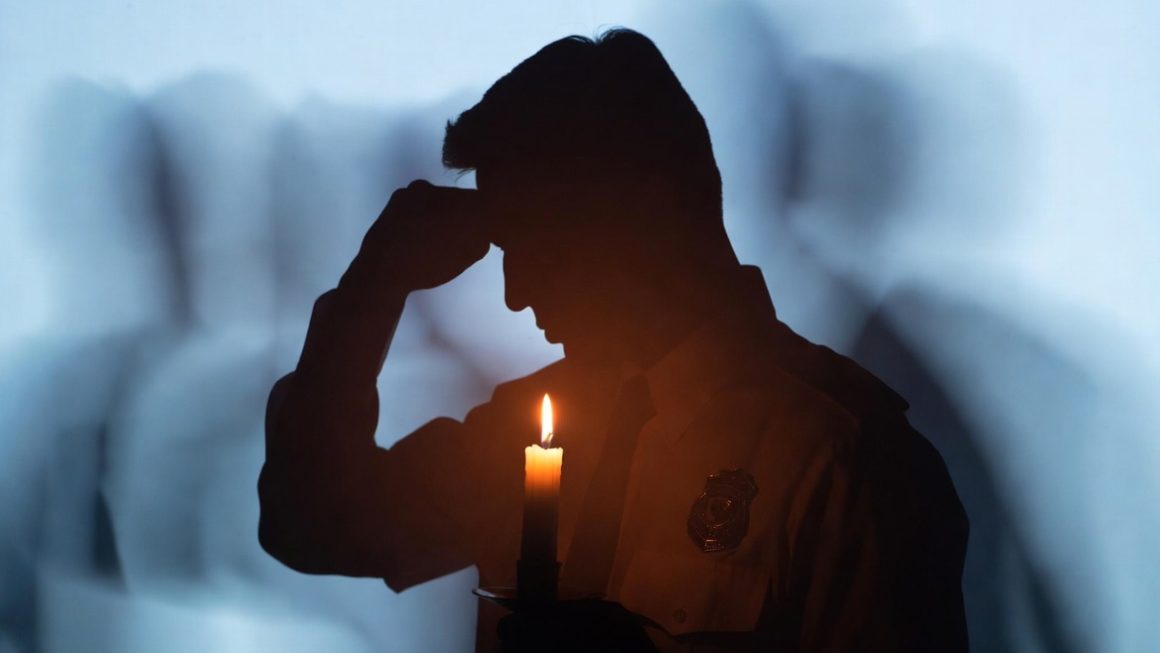Há mais de 50 anos, Alberto Guerreiro Ramos escreveu um artigo em que discutia duas formas de pensamento sobre o problema da modernização das sociedades, às quais intitulou Teoria N e Teoria P. Basicamente, por “Teoria N” ele queria dizer uma forma de pensamento em que toda sociedade, por uma lei de necessidade histórica, busca alcançar o estágio das sociedades desenvolvidas seguindo-lhes os passos, e, por “Teoria P”, a ideia de que não existe uma “localização” da modernidade e que cada nação pode modernizar-se conforme uma trajetória própria. Ou seja, Ramos combatia a ideia de um modelo único de desenvolvimento e defendia a liberdade das diferentes nações em termos de formular e buscar trajetórias de modernização.
Por instigante que seja a dicotomia proposta, Ramos não parece ter sido bem-sucedido em termos de divulgá-la ao mundo; como um exemplo, percebe-se entre os teóricos da Nova Economia Institucional, ainda pouco divulgada e discutida nos anos 60, o uso de modelos de path dependence para o entendimento dos processos de desenvolvimento. Ainda assim, deseja-se recuperar as teorias P e N e discuti-las brevemente no contexto da ética.
É sabido que muitas das grandes correntes do pensamento ético aspiram à universalidade de seus princípios. Kant, por exemplo, ao formular seu imperativo categórico, afirma ser este o princípio moral que qualquer pessoa racional iria adotar; Bentham estabeleceu um princípio de utilidade que também se pretende universalmente válido, mas focalizou sua atenção nos resultados da ação. Ambas, portanto, colocam o ético como o necessário. Apenas a ética aristotélica das virtudes parece se abrir para a ideia das possibilidades, pois, embora as virtudes sejam necessárias, sua aplicação em contextos diferentes não segue uma fórmula previamente estabelecida. Assim, pensando-se em termos éticos, uma ação moralmente aprovada é a mesma em todos os casos conforme Kant e Bentham, ao passo que, para Aristóteles, é preciso fazer uma reflexão racional em cada situação sobre o que pode ser considerado virtuoso e, portanto, moral.
As teorias do tipo N são, por definição, fortemente deterministas; as do tipo P enfatizam a liberdade, que Ramos faz questão de não contrapor ao determinismo: segundo sua análise, determinismo sem liberdade é fatalismo, e liberdade sem algum determinismo recai no niilismo. Ao se aplicar essa reflexão ao pensamento ético, tem-se que uma teoria moral que insiste no necessário limita a liberdade do ser humano (mesmo que Kant afirme que obedecer à razão seja a verdadeira liberdade), mas, por outro lado, uma que insista no possível corre o risco de cair num relativismo, pois a ação moral não pode ser reduzida a um fiat – para cada caso, um tipo diferente de ação.
Neste sentido, acredita-se poder defender a virtude como um caminho que concilia a possibilidade e a necessidade. A ação moral é necessariamente virtuosa, e a ação virtuosa necessariamente conduz à felicidade – mas em cada contexto a virtude se exerce de modo diferente e a felicidade é definida pela pessoa. O maior problema do relativismo é superado pela existência de uma base sólida sobre a qual se constrói a ética.
Esta reflexão ainda é embrionária e demanda maior aprofundamento para que se possa efetivamente discutir os modelos da necessidade e da possibilidade no âmbito do pensamento ético. Desenvolvimentos posteriores são fundamentais, mas, no momento, é irresistível encerrar com um jogo de palavras: no mundo atual, é cada vez menos possível pensar sobre o bem mas, paradoxalmente, nunca foi tão necessário.