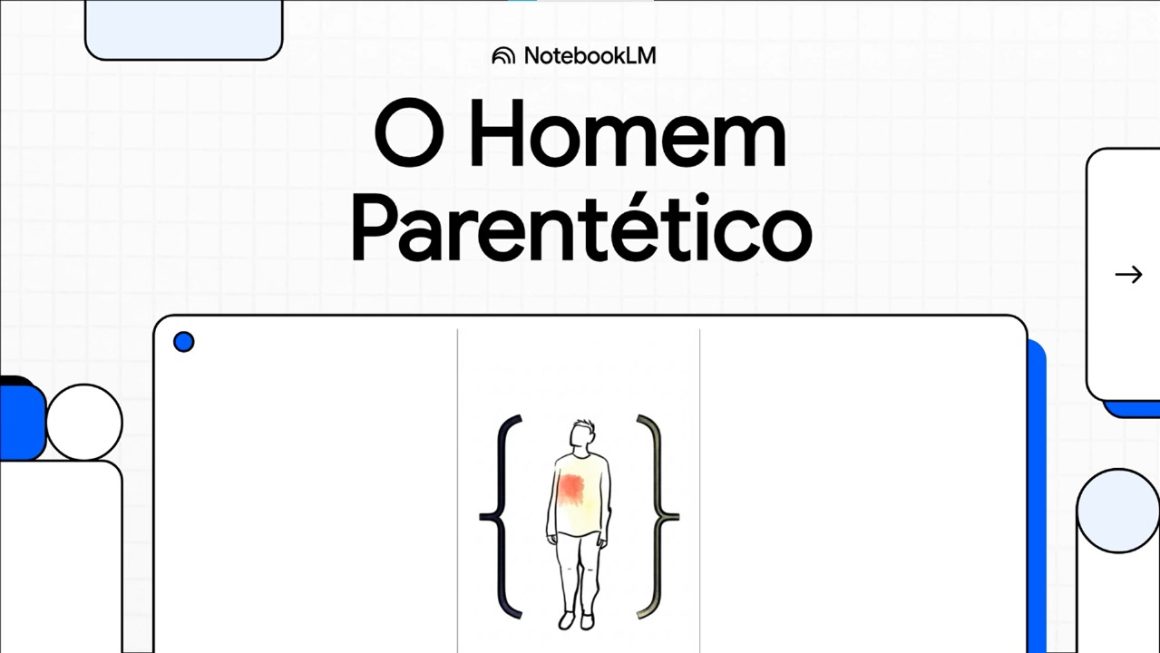Ariston Azevedo
Paulo Grave
O presente ensaio busca abrir caminho para uma reflexão filosófica sobre a administração. Nosso pensamento já se encontra avançado em muitas linhas e é nossa intenção nos próximos anos amarrar os pontos. Nosso texto básico de orientação de pesquisa e estudos continua sendo “Prolegômenos a Toda a Administrologia Possível: Administração – O Que é Isto?” (Azevedo & Grave, 2014), publicado na revista Organizações & Sociedade (https://doi.org/10.1590/S1984-92302014217100009 ). O caminho é árduo, sabemos, mas não estamos sozinhos nem andando a esmo.
Alcançar a areté, ter areté, significa ser capaz de atingir o mais alto grau de aperfeiçoamento no exercício de uma atividade, o que é o mesmo que realizá-la em conformidade com a excelência. Enquanto tal, ela pode ser alcançada em diversas esferas da vida humana. Foi justamente por essa razão que alguns dos mais importantes escritores gregos se referiram à areté como uma qualidade da inteligência ou da alma (psyché) (Platão, Protágoras, 322d; Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1098a), da saúde (Platão, Górgias, 479b; Político, 353b; Aristóteles, Retórica, I, 3), da beleza (Xenofonte, Ciropédia, V, 1-4) e do corpo – especialmente no que se refere à força e à agilidade (Homero, Ilíada, canto XX, verso 411). Além disso, a areté também podia ser atribuída ao mérito do artesão, do homem de Estado e do cidadão.
Há uma tradição especulativa sobre os modos de vida que remonta aos primeiros filósofos gregos. Ao que parece, foi Pitágoras quem primeiro utilizou os termos “filósofo” e “filosofia”, quando indagado por Léon de Fliunte sobre qual arte mais valorizava. A essa indagação, ele respondeu que de arte nada entendia, pois se considerava um “filósofo”. E tomando por analogia os jogos gregos, disse que nos grandes espetáculos olímpicos podiam ser observados três tipos de homens: primeiro, aqueles que aspiravam à fama e à glória; segundo, aqueles que ali iam com o propósito de vender e comprar; e, por fim, aqueles que compareciam unicamente para observar o que se fazia e como se fazia – quer dizer, iam ali para contemplar as coisas e buscar compreendê-las. Eis a atividade de um filósofo para Pitágoras.
Essa distinção pitagórica influenciaria significativamente a forma como Platão e Aristóteles categorizariam e descreveriam os diferentes modos de vida dos homens. Em República, Platão distingue três tipos principais de indivíduos: o filósofo, o ambicioso e o interesseiro (Rep. IX, 581c). Cada um deles corresponde a uma das três faculdades da alma (Rep. IV, 439a-440e): o concupiscível (irracional), o irascível e o racional. Além disso, a cada um desses tipos humanos associa-se uma forma de prazer (Rep. IX, 580d-583b): o primeiro está vinculado aos impulsos, desejos e necessidades corporais; o segundo, à busca por poder, vitória e reconhecimento, sendo o elemento auxiliar da razão na esfera política; e o terceiro, ao prazer proporcionado pela filosofia, que é próprio da razão.
Aristóteles, por sua vez, apresenta em Ética a Nicômaco e em Ética Eudêmia uma versão reelaborada da categorização platônica. No primeiro livro da Ética a Nicômaco, ele distingue três modos de vida fundamentais, correspondendo a três fins que os homens perseguem como expressão da felicidade: a vida voluptuosa, que busca o prazer; a vida política, orientada pela honra e pela virtude; e a vida contemplativa, cuja plenitude reside na sabedoria (Et. Nic. I, 5, 1096a). De forma semelhante, em Ética Eudêmia, Aristóteles afirma que, para alguns, a prudência é o maior bem; para outros, a virtude; e, para outros ainda, o prazer (Et. Eud. I, 1, 1214a). Em outra passagem, ele especifica que a vida filosófica se dedica à prudência e à contemplação da verdade, a vida política se concretiza nas nobres ações derivadas da virtude, e a vida de gozo realiza-se nos prazeres corporais (Et. Eud. I, 4, 1215a-b).
Para Aristóteles, independentemente do caminho escolhido a seguir, o homem livre, enquanto ser dotado de razão (nous/logos), alcançaria o Bem por meio do exercício ativo dessa razão, sempre em conformidade com os imperativos éticos que orientam a excelência (areté). Assim, enquanto as atividades conduzidas segundo a excelência poderiam conduzir o homem ao alcance da eudaimonia (felicidade), aquelas que se afastavam desse princípio resultariam em sua degradação (Et. Nic. 1100a 51-52). Além disso, as atividades desenvolvidas em conformidade com a excelência eram as mais duradouras entre todas as funções humanas, sendo as mais elevadas aquelas que ocupavam de maneira plena e contínua a vida dos homens felizes: “parece ser essa a razão pela qual não as esquecemos” (Et. Nic. 1100b 6-12). Assim, conclui Aristóteles, “o homem feliz […] estará sempre, ou pelo menos frequentemente, engajado na prática ou na contemplação do que é conforme à excelência” (Et. Nic. 1100b 6-12).
De Aristóteles até os dias atuais, os debates sobre os modos de vida foram inúmeras vezes retomados, e entre os pensadores que os revisitaram está Hannah Arendt. Em A Condição Humana, Arendt parte da tipologia aristotélica para desenvolver sua análise sobre a política. Em sua interpretação, para que um modo de vida (bios) se constituísse como um “modo de vida autônomo e autenticamente humano”, era fundamental que a atividade a ele associada fosse digna de ser exercida por um homem livre. Essa exigência fez com que nem o labor nem o work fossem considerados modos dignificantes de vida na civilização grega. Embora ambas as atividades estivessem incluídas no que Arendt denomina Vita Activa, elas não eram vistas como dignas, pois não gozavam dos quatro atributos fundamentais da liberdade: status, inviolabilidade pessoal, autonomia econômica e direito de ir e vir (Arendt, 1999, p. 21). A Vita Activa era composta por três dimensões: o labor, o work e a ação. Destas, apenas a ação originava um modo de vida digno de ser vivido, o bios politikos, que, juntamente com o bios apolaustikos (vida voltada ao prazer) e o bios theōrētikos (vida contemplativa), compunha os três modos de vida fundamentais destacados por Aristóteles.
Esses três modos de vida possuíam em comum o fato de não estarem orientados para o “necessário” nem para “meramente útil”, mas para o belo. Arendt os descreve da seguinte maneira: (i) uma vida voltada para os prazeres do corpo, na qual o belo é consumido tal como se apresenta; (ii) uma vida dedicada aos assuntos da pólis, em que a excelência se manifesta por meio de grandes feitos; e (iii) uma vida devotada à investigação e à contemplação das verdades eternas, cuja beleza perene não pode ser produzida pela ação humana nem alterada pelo consumo. A cada um desses modos de vida corresponde uma atividade considerada digna de um homem livre.
A felicidade não pode ser alcançada por meio do desenvolvimento de qualquer atividade, mas apenas e exclusivamente por meio daquelas que estejam em conformidade com a excelência, isto é, com a melhor e mais completa dentre todas as formas de excelência. No entanto, é fundamental reconhecer que a excelência não se limita a um componente pessoal e autoevidente; sua conquista não ocorre em um contexto de isolamento, solidão ou experiência puramente fenomenológica. Pelo contrário, como observa Arendt, o alcance da excelência dá-se em um contexto de pluralidade humana. Segundo a autora:
“A ideia de excelência sempre foi reservada à esfera pública, onde uma pessoa podia sobressair-se e distinguir-se das demais. Toda atividade realizada em público pode atingir uma excelência jamais igualada na intimidade; para a excelência, por definição, há sempre a necessidade da presença de outros, e essa presença requer um público formal, constituído pelos pares do indivíduo…” (Arendt, 1999:58).
E complementa:
“Nenhuma atividade pode tornar-se excelente se o mundo não proporcionar espaço para o seu exercício. Nem a educação, nem a engenhosidade, nem o talento podem substituir os elementos constitutivos da esfera pública, que fazem dela o local adequado para a excelência humana.” (Arendt, 1999:59).
O que está subjacente a essa análise de Arendt é a ideia de que cada atividade humana possui um lugar adequado dentro da tessitura existencial do homem e da coletividade. Dela queremos destacar três pontos fundamentais, os quais nos conduzirão a um quarto ponto como hipótese de estudo: primeiro, a cada modo de vida corresponde uma atividade ou ação específica; segundo, essa atividade ou ação deve, necessariamente, ser realizada em conformidade com a excelência; e terceiro, é imprescindível considerar, no conjunto das relações humanas, o espaço adequado para que essa atividade ou ação possa ser plenamente exercida.
Isso posto, há que se supor a possibilidade do alcance da areté no exercício da atividade administrativa. Nossa hipótese é a seguinte: a administração, em sua revelação pública – isto é, ao se manifestar e ao ser reconhecida – apresenta-se como uma excelência (areté) humana associada a um modo específico de vida estando associada à ideia de “bem governar”.
Mas a que modo de vida a administração estaria ligada? Quais ou quais suas atividades essenciais?
Exploraremos esse ponto em um próximo texto.
REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.
ARENDT, Hannah. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: Editora da UNB, 1999.
ARISTÓTELES. Ética Eudemia. Madrid: Editorial Gredos, 1998a.
ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 1998b.
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Rio de Janeiro: Ediouro, 1992.
ARISTÓTELES. Dos argumentos sofísticos. In: ARISTÓTELES I. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 153-197.
PLATÃO. As leis. Bauru, SP: Edipro, 1999.
PLATÃO. A República. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
PLATÃO. Górgias. Lisboa: Edições 70, 1992.
PLATÃO. Diálogos: O banquete, Fédon, Sofista, Político. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
PLATÃO. Protágoras. Fortaleza: Edições UFC, 1986.
PLATÃO. Diálogos: Mênon, Banquete, Fedro. Rio de Janeiro: Globo, 1945.